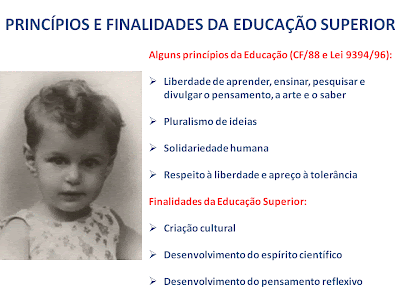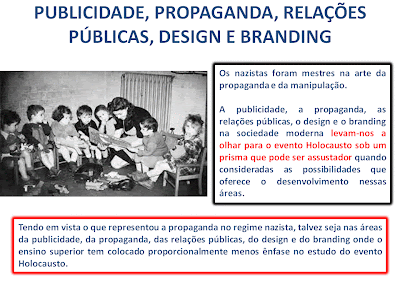Escrevi na revista Língua Portuguesa um artigo sobre a negação, que foi publicado com o título "As letras que fazem não". As ilustrações que eu gostaria que tivessem sido incluídas, mostrando claramente os trechos aos quais me referia, não foram usados na diagramação, mas o resultado final permite, assim mesmo, entender a minha tese. Não sou especialista em língua portuguesa, sendo que o objetivo foi o de trazer à tona, em uma linguagem não ficcional (diferentemente da utilizada para tratar desse assunto no meu livro "O Código David"), uma tese pessoal, sem mais embasamento do que o que explicitei. O texto pode ser encontrado diagramado na edição n° 68 da Revista Língua Portuguesa - "
As letras que fazem "não"". Abaixo o texto original.
O ‘ENE’, O ‘NÃO’ E A NEGAÇÃO
Uma simples análise comparativa em diversas línguas permite verificar que existe uma correlação entre a negação e a letra ‘ene’. Colhendo apenas alguns exemplos da negação em uma amostra representativa das línguas indo-europeias, podemos identificar, além dos nossos ‘não’, ‘nem’, ‘nunca’, ‘nada’, inúmeras formas que empregam a letra ‘ene’. Em inglês: ‘no’, ‘not’, ‘nor’, ‘neither’, ‘none’ e todos os derivados (‘notwithstanding’, ‘nonetheless’, etc); em italiano: ‘no’, ‘neppure’, ‘nessuno’, ‘niente’, ‘nonostante’; em espanhol: ‘ni’, ‘no’, ‘nunca’; em francês: ‘non’, ‘ne’, ‘ni’; em alemão: ‘nein’, ‘nicht’; em russo ‘niet’; e assim por diante, bastando prosseguir com tal exercício para chegarmos à conclusão de que é através da letra ‘ene’ que se expressa a negação, pelo menos nesse grupo linguístico.
No entanto, é muito mais difícil encontrar uma explicação para essa conclusão ou para essas “coincidências”. Pode ser que a sonoridade ‘n’ seja, por alguma razão morfológica, mais propícia a essa expressão, ou que todas essas formas da negação descendam de uma forma contida em uma língua da qual todas essas demais línguas se originaram. Desde logo vamos excluir o latim, porquanto nosso grupo linguístico é mais amplo, como atestam os exemplos acima de formas germânicas e eslavas. A hipótese que vamos utilizar aqui, e que explicitaremos a seguir, é de certa forma ousada. Primeiro porque não se baseia em uma competência acadêmica –razão pela qual a afirmamos anteriormente apenas na forma de uma ficção. Em seguida porque parte, paradoxalmente, de uma língua em que o simples ‘não’ se diz sem o emprego justamente da letra ‘ene’.
Na verdade, o que passaremos a chamar doravante de “negação pelo ‘ene’” é apenas uma forma da negação, que, contudo, pode não ser uma verdadeira negação. Em outras palavras, o ‘não’ não seria uma verdadeira negação! Mas existe então uma verdadeira negação? Conceitualmente sim, pelo menos quando a consideramos sob determinados prismas. Isso é o que nos propomos demonstrar a seguir.
Em hebraico, ‘não’ se diz (foneticamente) ‘lo’ e se escreve com as letras lamed+alef. O uso destas letras ao invés do ‘ene’ retrata outra forma de pensamento e não de negação, pois, como dissemos acima, há somente uma verdadeira negação. Para prosseguirmos vamos precisar explicar o que significa esse ‘lamed+alef’, mas o faremos de forma simplificada para não extrapolarmos o tema. A letra ‘lamed’ tem a peculiaridade de ser a única que ultrapassa a linha sob a qual estão escritas as letras do alfabeto hebraico. Essa originalidade de ir além do texto, ou “au-delà du verset” na expressão cunhada por Emmanuel Levinas, explica porque ela tem a conotação de estudo e ilustra também o movimento, a direção, a finalidade. Em português poderíamos empregar o ‘para’. Por exemplo, se alguém vai ‘para Jerusalém’, em hebraico ele vai ‘le Yerushalaim’. Se um vinho é ‘kosher para Pessach’ se diz que ele é ‘kosher le Pessach’. Assim, podemos dizer que o ‘lamed’ é corolário de vida, pois vida é movimento. Mas não de vida no mero sentido de estar vivo, senão que no de ter alguma finalidade, intenção, até mesmo valores.
Feitas tais considerações, cabem algumas explicações sobre o ‘alef’, pois é em direção a esta que conduz o ‘lamed’, para juntos formarem o ‘não’ hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico, o ‘alef’, representa, inter alia, a primeira pessoa, o ‘eu’, que em hebraico é ‘ani’. Portanto, o protótipo da negação em hebraico é ir para si mesmo, ao invés do movimento inverso, em direção ao outro. Na verdade o exato oposto é ‘alef-lamed’, que forma a palavra ‘el’, ou seja ‘D’us’ em hebraico. Em suma, voltar-se para si próprio e desconsiderar os demais, a alteridade, traduz o conceito de negação. Isso é lógico, pois ninguém pode viver isolado, sem a sociedade. Quando alguém se fecha ao mundo externo há uma negação, enquanto que abrir-se, ir em direção ao outro, é afirmar-se. Trata-se, no ‘lamed-alef’ (‘lo’), de uma negação concreta, determinada pelo movimento de não consideração de tudo o que não é o sujeito. Nesse sentido é a única negação possível, pois não podemos pensar um ‘não-movimento’, porquanto ao pensarmos já estamos fazendo algo. Por isso a negação como conceito absoluto ultrapassa qualquer forma de compreensão humana. Assim como ocorre com o seu oposto absoluto.
Como ninguém consegue ser totalmente alheio a tudo, o conceito de negação que podemos compreender inclui necessariamente a ideia de movimento –ir na direção do distanciamento, da recusa-, a dinâmica expressa pelo ‘lamed’, mas nunca o ‘não’ absoluto. Se esse é o conceito de negação que estaria na origem da negação expressa pelo ‘lo’ hebraico, ele difere totalmente do conceito, também de certa forma originalmente hebraico, ainda que possivelmente não exclusivamente, que exprimem as formas que empregam o ‘ene’. Nestas, o que verificaremos é que não se trata mais de movimento, mas de ausência. Podendo esta ausência ser tanto no sentido de algo que não existe neste mundo, sem, contudo, ser inexistente, como de algo que existe e que deixou de ocupar um espaço ou que ainda não o ocupou. Em todos os casos, trata-se de uma ausência, não de uma inexistência, pois é suficiente que algo seja negado para que exista, ainda que somente como conceito.A ausência, contrariamente à inexistência, não nega o conceito, como podemos verificar com os pontinhos de etcetera ou a impressão que deixavam no tabuleiro as pedras retiradas.
No livro ‘O nada que existe’, Robert Kaplan explica que ‘É mais provável, portanto, que o círculo vazio grego para o zero tenha vindo da impressão deixada por pedras retiradas de um tabuleiro de cálculo coberto de areia’ e que ‘Quando voltamos ao ambiente indiano encontramos um ponto utilizado para representar a promessa de cumprir uma tarefa não-realizada, mas também para indicar uma lacuna em uma inscrição ou manuscrito: “sunyabindu”, “o ponto que assinala um espaço em branco”.
Essa forma de negação cuja essência decorre do conceito de ausência, que as sociedades indo-europeias acabaram representando pelo zero e pelo ponto, pode ser igualmente encontrada no texto bíblico, na forma de pequenos pontos sobre as letras ou sua representação. A sua função é a de alterar o sentido literal ou o sentido deduzido do texto, trazendo o verdadeiro significado que se encontrava ausente.
Alguns exemplos conhecidos: a) em Gênesis (19,33) a palavra ‘uvekuma’ tem um ponto sobre a letra ‘vav’. Nesse versículo é dito que ‘E fizeram beber a seu pai vinho naquela noite; e veio a maior e dormiu com seu pai, e não o soube (Lot, o pai) em seu deitar, nem em seu levantar (‘uvekuma’). Segunda a tradição, o ponto serve para indicar que se o pai, embriagado, não tinha muita consciência do que estava acontecendo quando sua filha mais velha se deitou, ele sabia perfeitamente o que tinha acontecido quando ela se levantou. Em suma, ele manteve relação sexual com sua filha e teve plena consciência disso quando esta se levantou. Portanto, o ponto sobre a letra ‘vav’ da palavra ‘uvekuma’ (‘e se levantou’) serve para inverter o sentido literal da frase; b) um pouco mais adiante, ainda em Gênesis, a palavra ‘vayeshakeu’ (‘e beijou-o’) está totalmente coberta com pontinhos. Aqui a tradição interpreta que, como sabemos que Esaú detestava seu irmão, poderíamos considerar esse beijo com ironia. Portanto, os pontos servem para indicar que ele beijou Jacó com sinceridade, de coração. Neste caso os pontinhos servem para modificar, não o sentido da palavra, mas o que pensamos que seria esse sentido, em razão de nosso a priori. Então, os pontinhos restabelecem o sentido literal, que seríamos inclinados a desvirtuar; c) em Números (3, 39), a palavra Aarão está totalmente coberta por pontinhos, indicando que Aarão não foi incluído no censo de vinte e dois mil. Neste caso, os pontinhos serviram para excluir do fato relatado a palavra sobre a qual estão colocados.
Esses pontinhos são chamados em hebraico de ‘nekudot’. Interessante, aqui aparece o ‘ene’! No início do versículo 35 (antes da palavra ‘vayehi’ –‘e era’) e no final do versículo 36 (após a palavra ‘Israel’) do capítulo 10 de Números da Bíblia hebraica eles não aparecem, mas a tradição explica que na verdade eles foram apagados e o que restou foram duas letras ‘nun’ (letra do alfabeto hebraico que corresponde à nossa letra ‘ene’), os ‘nunim’ dos espaços brancos entre esses versículos e os que os precedem e os sucedem. Trata-se, portanto, da letra ‘nun’, inicial de ‘nekudot’ (pontos), que visa representar a omissão, a exclusão dos pontinhos, mas que não pode confundir-se com uma letra ‘nun’ do texto bíblico, razão pela qual os ‘nunim’ estão invertidos, como se, em português, escrevêssemos a letra ‘ene’ ao contrário, ou de ponta cabeça, apenas para não confundi-las com letras do texto. É como se essas duas letras ‘nun’ estivessem escritas, mas vistas num espelho. Elas existem, mas ao contrário. Isso é uma afirmação ou uma negação?O que denotam os ‘nekudot’ e os ‘nunim’ é que quando dizemos que não queremos algo ou que não fazemos algo ou que algo não existe, sempre há algo, ao menos conceitualmente, para não se querer, não se fazer ou não existir. Portanto, a letra ‘nun’, que corresponde ao nosso ‘ene’, e o conceito de negação que ela representa no texto bíblico, podem esclarecer um pouco o porque do emprego da letra ‘ene’ como forma da negação em tantas línguas indo-europeias.
Outra questão, mais complexa, é a via pela qual isso teria ocorrido. Basta aqui concluirmos que a negação pelo ‘ene’ é aquela que nunca é absoluta, senão que permanece na esfera do ser humano, que não tem o poder de negar nada em absoluto, pois também não tem o conhecimento absoluto, ausência esta sine qua non deste artigo.